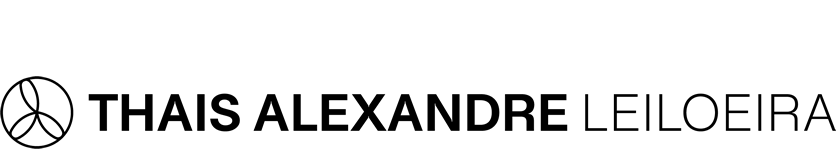Em texto publicado em 2018 pela Revista Select, Jaider Esbell é direto “Indígena e arte são de origem comum e indissociável.”. O artista de origem macuxi, etnia indígena que habita a Amazônia na região de Roraima, é um dos principais nomes da arte indígena contemporânea brasileira.
Se a prática artística indígena é ancestral, a novidade é a emergência de um expressivo número de artistas, curadores e pensadores indígenas no circuito da arte contemporânea. Essa distinção surge de uma premissa básica: o sistema de arte contemporânea é um sistema de origem ocidental que não reconhece, ou reconhecia, o fazer artístico indígena da mesma forma que legitimou o fazer artístico de ocidentais. Mas isso não significa a inexistência de um sistema paralelo, próprio, que possui suas típicas dimensões e dinâmicas. Para Esbell, ele sempre esteve ali.

Obra de Jaider Esbell (Levi Fanan/Fundação Bienal de SP/divulgação)
No encontro da arte indígena com o sistema de arte contemporânea, persistem tensões próprias do convívio de duas perspectivas de mundo distintas. Exemplos disso são os conflitos em relação à noção de autoria e coletividade, ou na objetificação da arte ocidental. Tendo a pensar que quanto mais institucionalizados os espaços, mais a burocracia se impõe como obstáculo aos diálogos. Comenta Esbell “Devemos atender a um sentido a mais. Quando a arte indígena encontra o sistema de arte global, a assinatura do artista ou do coletivo de artistas é requerida. É requerido algo emoldurável para o que nunca caberá em molduras. Esse atributo de valor influencia e faz toda a diferença no contexto contemporâneo.”.
A ideia de uma “arte indígena” surge, segundo Fernanda Pitta no artigo “A ‘breve história da arte’ e a arte indígena”, de 2021, no contexto da Exposição Universal de 1889 em Paris, quando o intelectual Eduardo Prado publicou o ensaio “L’Art” que compunha a obra “Le Brésil en 1889” – essa, uma publicação organizada pelo Barão do Rio Branco e publicada pelo Estado. No ensaio, Prado apontou a origem da arte brasileira como a produção das populações indígenas, diferenciando uma arte ornamental indígena (em especial a plumária), e a arte utilitária (a cerâmica). Além disso, o autor defendia que a arte indígena deveria ser a base de uma arte nacional original.

Obra Espelho da Vida de Daiara Tukano durante a 34a Bienal de São Paulo. ( Levi Fanan / Fundação Bienal de São Paulo)
Durante o início do século XX, as culturas indígenas foram novamente apontadas como aspecto fundamental da cultura brasileira, como discutimos em artigo anterior, mas sem que isso significasse a presença de artistas indígenas nestes espaços. O cenário basicamente se repetiu na segunda metade do século XX, sendo que neste momento a apresentação de situações relacionadas à luta pela demarcação de terras indígenas, à proteção do meio-ambiente e à identidade indígena como um dos elementos primordiais da identidade nacional, tornou-se bastante comum entre artistas de relevância. Foi o caso de diversas obras de artistas como Cildo Meireles, Lygia Pape, Cláudia Andujar e Anna Bella Geiger que utilizam a causa indígena como repertório, referência, “influência” ou tema. Estes são exemplos do que Moacir dos Anjos denominou “representação das sobras”, pois retratam indivíduos e culturas marginalizados da sociedade mas sem promover uma verdadeira inserção além da representação. Por outro lado, possuem valor estético e histórico na medida em que utilizaram seu espaço no circuito para propor essas discussões.
Para a pesquisadora Ilana Goldstein, entre a representação e o protagonismo indígena existe um ponto intermediário o qual ela denomina “arte pró-indígena”, que é diversa em relação ao grau de aproximação com a arte indígena contemporânea. Segundo a pesquisadora, a autorrepresentação é um avanço em relação à condição anterior, caracterizada pela representação, mas ainda insuficiente na medida em que os exemplos dados não foram pensados e/ou realizados majoritariamente por indígenas.
Em 2017, o artista Ernesto Neto produziu um caso emblemático: colaborou com pajés Huni Kuin na exposição “Aru Kuxipa”, que percorreu São Paulo, Bilbao, Veneza e Viena. As obras foram resultado de um longo processo de convivência e criação de vínculos afetivos com a comunidade. Em 2018, uma nova experiência: como parte da mostra “Arte Indígena Eletrônica” apresentada pelo MAM-Bahia, dez artistas realizaram residências em aldeias Tupinambá, Pataxó, Kariri-Xokó e Karapotó Plaki-ô com o objetivo de pesquisar relações entre a tecnologia e os saberes tradicionais.

Vista da exposição Aru Kuxipa de Ernesto NEto e o povo Huni Kuin.
Entre abril de maio de 2019, esteve em cartaz no Centro de Artes da UFF (Niterói, RJ) a exposição “Reantropofagia”, que promoveu importantes avanços no quadro. Co-curada por Denilson Baniwa e Pedro Gradella, todos os artistas expostos eram indígenas e a eles coube apresentar reflexões em textos sobre seus trabalhos e realizar visitas guiadas. A mostra pode ser considerada uma divisão na história da arte brasileira e na cronologia da arte indígena contemporânea, pois evidenciou o projeto curatorial que uniu diversos artistas e pensadores ao redor do conceito da reantropofagia.
Estratégia importante desse movimento é a técnica de apropriação e reinterpretação conduzida por artistas afro-indígenas sobre, especialmente, os arquivos das coleções Brasiliana. Tomando a crítica e a provocação como ponto de partida, a estratégia consiste em rasurar, acrescentar e transformar obras icônicas da arte produzida sobre o Brasil principalmente entre os séculos XVI e XIX.

Artistas do MAHKU em produção de suas obras. Foto: Daniel Dinato
“Não coma carne, coma memória”, escrito por Baniwa no rodapé de uma imagem representando o ritual antropofágico de Hans Staden, sintetiza a proposição de novos significados a partir de uma perspectiva até então silenciada na História da Arte brasileira.
Daiara Tukano propõe o termo “articídio” para qualificar as ações de etnocídio, manipulação e engano através da arte, outra ferramenta importante para pensarmos a que interesses serve a reprodução acrítica de imagens de arquivo e trechos documentais considerados fontes primárias incontestáveis, ignorando os vieses e o contexto histórico de suas criações.
Essa breve cronologia reflete não apenas a necessidade de exigir das instituições e projetos culturais a execução de pesquisas de campo aprofundadas, que preocupem-se em diminuir ao mínimo possível as fissuras do processo etnográfico. Mas, além, ressalta e defende a incontornável exigência de participação indígena no circuito da arte contemporânea em todas as funções possíveis.